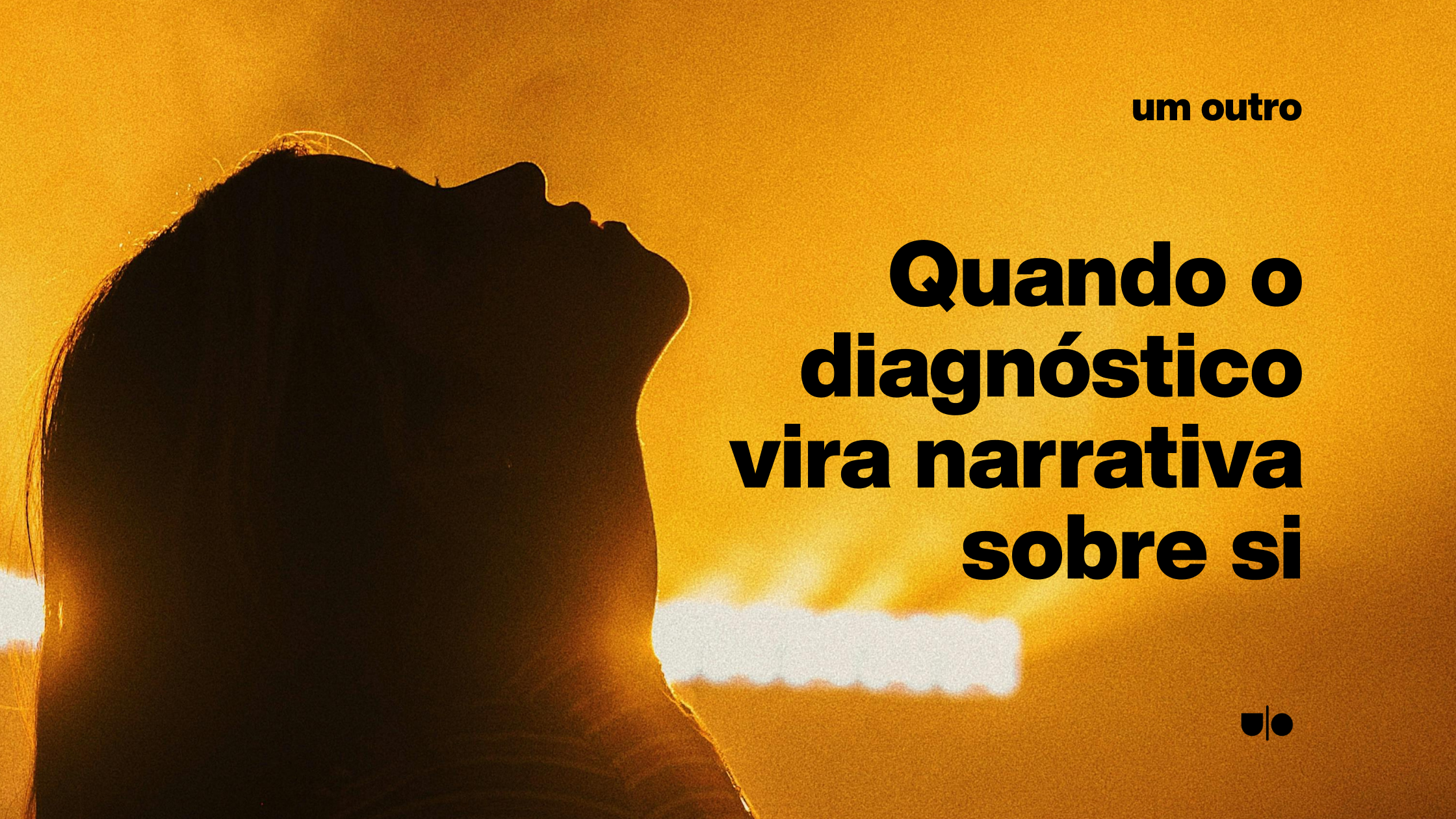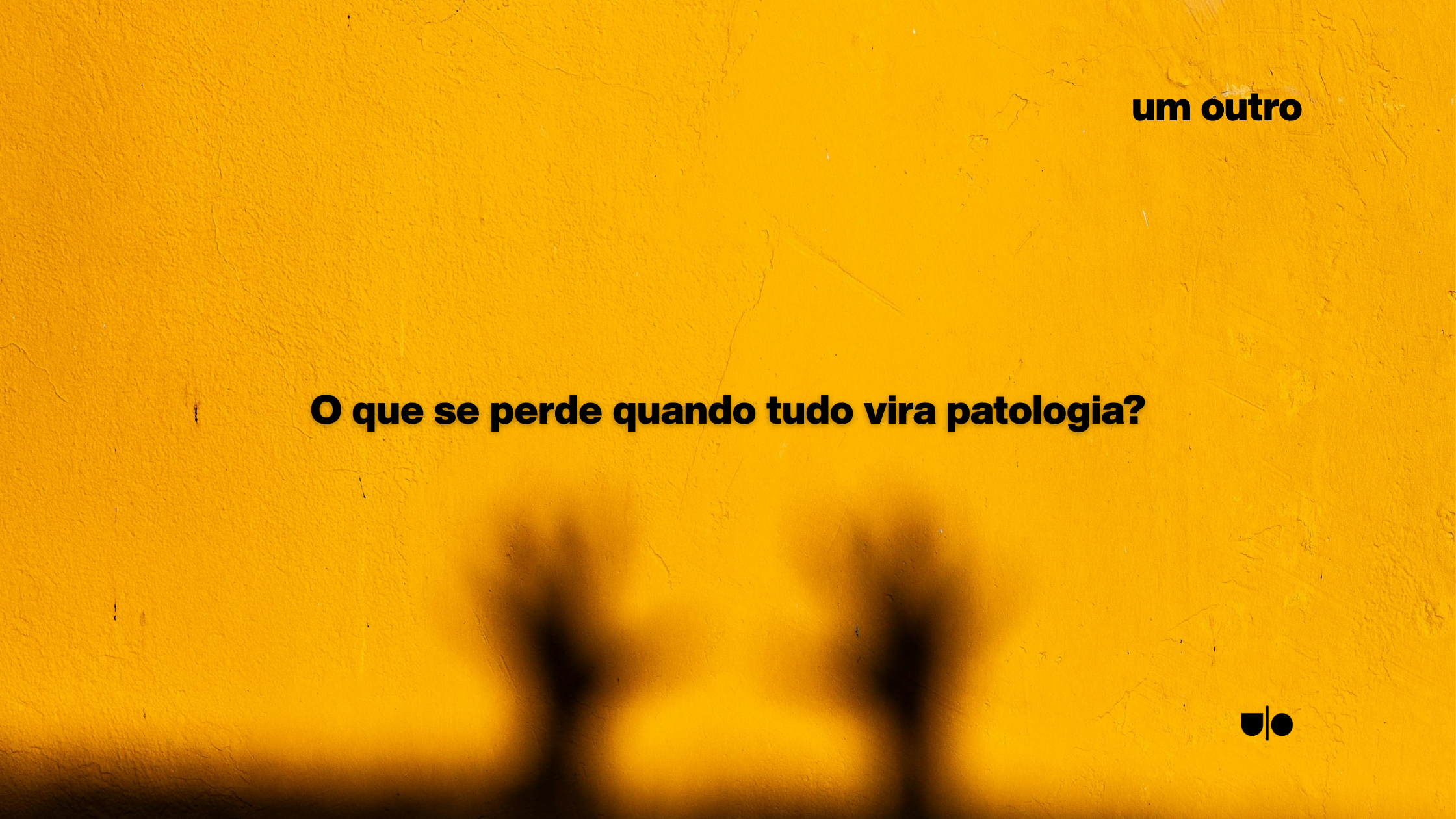Meu diagnóstico em saúde mental
O fenômeno contemporâneo do diagnóstico como identidade
Cada dia mais aumenta o número de pessoas que chegam ao atendimento já trazendo algo que acreditam saber sobre si: um diagnóstico. Antes mesmo de falar da dor, apresentam o rótulo. “Sou autista”, “tenho TDAH”, “sou bipolar”, “tenho ansiedade generalizada”. As redes sociais certamente potencializam esse movimento, mas elas não o inventaram. O que chama atenção é a quantidade de profissionais de saúde que têm corroborado para que isso se torne o modo dominante de se relacionar com o próprio sofrimento.
Não é raro que alguém procure um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista na esperança de finalmente obter uma espécie de sentença: o nome que justificará a estranheza de sempre, o encaixe que explicará o desencontro com o mundo. Quando o diagnóstico vem, muitas vezes a sensação é de alívio genuíno: “Então era isso…”. O nome parece organizar a bagunça, dar um contorno ao que era difuso. E, de fato, em alguma medida, faz isso.
Mas há um desdobramento preocupante. A cada dia fica mais fácil justificar a própria impotência diante do real da vida com base em uma etiqueta diagnóstica. Produzo pouco porque “tenho TDAH”. Não tenho muitos amigos porque “sou autista”. Minha namorada “só pode ser bipolar” porque muda de humor. O sofrimento, que poderia ser uma experiência a ser escutada e elaborada, vira rapidamente um código que explica tudo – e, ao mesmo tempo, esvazia alguma coisa.
É como se todas as pessoas estivessem caminhando para encontrar sua placa de patrimônio: um número de série com correspondente no DSM. Ser humano, aos poucos, vai virando sinônimo de ser categorizado em termos de saúde mental. A pergunta que se impõe é menos clínica e mais antropológica: como chegamos a esse ponto? O que esse movimento indica sobre a forma como nos relacionamos com a dor? E, olhando para trás, como a espécie humana sobreviveu dezenas de milhares de anos sem saber de seus “acometimentos mentais”?
Se quisermos levar essas perguntas a sério, talvez seja preciso atravessar alguns planos ao mesmo tempo. Há a questão do diagnóstico em si – sua função, seus benefícios, seus riscos. Há a história das formas de nomear a loucura e o sofrimento psíquico, de Pinel às neurociências. Há ainda o cenário contemporâneo: capitalismo, redes sociais, vida em exposição permanente. E, por baixo de tudo, uma questão ontológica: o que é um ser humano, se não cabe apenas em genes, em sinapses, em laudos ou em classificações?
A função clínica — e os limites — do diagnóstico
Antes de mais nada, é preciso reconhecer um ponto básico: o diagnóstico não nasce do nada. Ele responde a necessidades concretas. A psiquiatria, ao longo de sua história, foi se organizando como campo justamente para dar algum tipo de ordem àquilo que, por muito tempo, foi tratado como pecado, possessão, desvio moral ou punição divina. Classificar foi um gesto civilizatório: em vez de amarrar, queimar ou expulsar, tentou-se descrever, comparar, compreender, tratar.
Em contextos graves – depressões profundas com risco de suicídio, surtos psicóticos, estados maníacos desorganizados –, ter um diagnóstico faz diferença. Ele orienta o uso de medicamentos, o tipo de cuidado, o grau de vigilância, a necessidade de internação. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. A clínica médica, a pesquisa, as políticas públicas precisam de alguma forma de nomear aquilo que enfrentam.
Mas, como Dalgalarrondo insiste, nenhum diagnóstico existe fora da história de quem o recebe. A psicopatologia, quando bem praticada, é antes de tudo um exercício de atenção: olhar o modo como alguém fala, se move, sofre, se relaciona, sonha e repete, antes de encaixá-lo em qualquer categoria. Nas mãos da indústria farmacêutica e de uma cultura obcecada por produtividade, porém, essa ferramenta corre o risco de ser reduzida a um atalho: um conjunto de códigos que facilitam prescrever, faturar, encaminhar – sem necessariamente escutar.
Hoje, há consultas em que o diagnóstico entra rápido demais. E sai com peso de destino.
Quando o diagnóstico vira narrativa sobre si
Do lado da psicanálise, o diagnóstico tem outro estatuto. Não é uma definição da pessoa, mas uma hipótese sobre a forma como ela se estrutura diante da linguagem, da falta, do desejo. Neurose, psicose, perversão não são rótulos decorativos; são modos de funcionamento que ajudam o analista a não se enganar quanto à direção possível do trabalho. Só que esse diagnóstico não é algo a ser entregue ao sujeito como identidade. Ele é, no limite, do campo do clínico – não do currículo.
Ainda assim, o diagnóstico pode ganhar um lugar defensivo. Há pessoas que encontram em uma categoria diagnóstica não apenas uma explicação, mas uma espécie de abrigo: “eu sou assim, está escrito”. Isso alivia a culpa, tira o peso da responsabilidade absoluta, mas também pode congelar a possibilidade de mudança. Se tudo o que faço está determinado pela condição X, o que sobra da minha participação na própria vida?
Daí um ponto delicado: quando uma patologia passa a explicar toda a existência, algo se perde.
Perde-se, por exemplo, a dimensão do conflito. A experiência de se ver dividido, de não saber exatamente por que repete o que faz, de se reconhecer em contradições que não se resolvem em uma frase. Se tudo vira efeito direto do transtorno, o conflito é rapidamente traduzido em “sintoma”. E sintoma, nesse uso empobrecido da palavra, vira algo a ser corrigido, não interrogado.
Perde-se também a chance de perguntar o que aquela forma específica de sofrer diz de uma história singular. Se sou “apenas” TDAH, “apenas” autista de nível tal, “apenas” ansioso, a minha biografia inteira passa a ser lida como uma ilustração de um quadro. O movimento se inverte: o sujeito deixa de ser alguém que, entre outras coisas, sofre de determinado modo, para virar um exemplo ambulante de diagnóstico.
Há ainda o problema dos espectros. A ideia de espectro, em si, foi um avanço em relação a modelos rígidos que separavam de maneira absoluta “doente” e “saudável”. Admitir gradações, nuances, apresentações distintas de uma mesma estrutura pode ajudar a incluir quem ficou de fora por muito tempo. O autismo, por exemplo, foi revisto justamente para abarcar formas de funcionamento que antes passavam invisíveis.
Só que, numa cultura que busca encaixes o tempo todo, o espectro pode virar uma armadilha: se tudo é espectro, tudo é potencialmente patológico. Em algum ponto do contínuo, todos nós poderíamos ser enquadrados em algum nível de algum transtorno. Um pouco de desatenção e inquietação? TDAH. Pouca vontade de socializar? Espectro autista. Oscilações de humor? Algo na família das “transtornos de humor”.
Quem já estudou psicopatologia com afinco sabe como é fácil se enxergar em quase tudo. Não é raro que estudantes leiam Dalgalarrondo e saiam com a sensação de que carregam traços de vários quadros. A diferença é que, para quem está em formação, isso costuma ser temperado por supervisão, crítica, contexto. Fora desse ambiente, a identificação com diagnósticos pode se espalhar sem freios.
O risco não é exatamente o de “inventar” doenças, mas o de patologizar a variação da própria vida: timidez, luto, incerteza, crises existenciais, contradições, modos diferentes de ser no mundo.
O papel do capitalismo e das redes na fabricação de identidades clínicas
Por trás de tudo isso, passa silenciosa outra força: o capitalismo contemporâneo. Um sistema que exige rendimento contínuo, autogestão emocional, adaptação constante e otimismo permanente tem pouco espaço para a fraqueza, a pausa, o não saber. Nesse cenário, o diagnóstico cumpre uma função ambígua. De um lado, ele absolve: “não é preguiça, é transtorno”. De outro, alimenta mercados – de remédios, de terapias rápidas, de cursos, de conteúdos.
As plataformas digitais completam o quadro: vídeos curtos que listam sinais de TDAH, testes de ansiedade em cinco perguntas, comentários que funcionam como espelhos (“isso é tão eu!”). Nada disso é desprezível – muita gente chega à ajuda profissional por essa porta. Mas quando a vida interior é colonizada por essas linguagens, o perigo é trocar a experiência direta por um vocabulário pronto.
A pergunta que quase não aparece, no meio de tantas respostas, é justamente aquela que a clínica não pode abandonar: o que está se passando com você?
O que se perde quando tudo vira patologia
E o que se perde com o excesso de diagnóstico?
Perde-se, antes de tudo, a possibilidade de estranhar a própria dor. De poder dizer “não entendo o que está acontecendo” sem imediatamente buscar um código que traduza. Perde-se o tempo de elaborar. Perde-se a diferença entre sofrer e ser. Entre “estou deprimido” e “sou depressivo”. Entre “vivo uma crise” e “sou ansioso”. O verbo se fixa no “ser” – e o diagnóstico, que deveria ser um elemento entre outros, passa a ocupar o centro da cena.
Perde-se também a dimensão política do sofrimento. Se tudo é tratado como questão individual, localizada no cérebro ou na biografia isolada, o que dizer da precariedade, da violência, do racismo, das desigualdades, das relações de trabalho adoecidas? Nem toda dor é efeito de um transtorno. Às vezes é efeito de um mundo mal distribuído.
Por fim, perde-se a aposta na complexidade do humano.
Ser “bio-psico-social-espiritual”, como costumamos dizer, virou quase um clichê. Mas, levado a sério, esse enunciado é exigente. Implica reconhecer que ninguém é só cérebro, só história, só cultura, só química, só narrativa. Um diagnóstico pode tocar um pedaço verdadeiro da experiência – e ainda assim deixar muita coisa de fora.
Recolocar o diagnóstico no seu devido lugar
Não se trata, portanto, de demonizar diagnósticos, nem de romantizar o sofrimento sem nome. Trata-se de recolocar o diagnóstico em seu devido lugar. Ele é um instrumento importante, às vezes decisivo, que pode abrir portas para tratamentos, acolhimento e direitos. Mas ele não pode ser confundido com a pessoa. Nem com a verdade última sobre quem ela é.
Talvez a tarefa ética hoje seja dupla:
de um lado, lutar por diagnósticos bem feitos, responsáveis, que considerem a história, o contexto e o tempo;
de outro, sustentar espaços em que alguém possa falar de si para além das categorias que foram coladas sobre sua testa.
Porque, no fim, nenhuma sigla explica o que é estar vivo.
Ela, no máximo, desenha um contorno.
O que faz de cada um um sujeito – e não um número em um manual – é justamente aquilo que escapa a qualquer diagnóstico: a maneira singular como se tenta existir, com ou sem nome para isso.